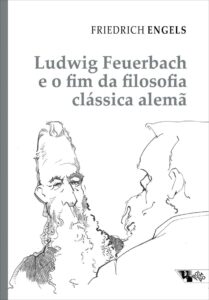
Trad. de Nélio Schneider. Apres. de Eduardo Chagas. Pról. de Victor Strazzer. São Paulo: Boitempo, 2024. 152 pp. (Marx-Engels).
ISBN 978-65-5717-331-2
Essa nova coletânea da coleção Marx-Engels da Boitempo traz três textos publicados por Engels em sua fase madura. Dois deles são originais — Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã e Sobre a história do cristianismo primitivo — e um é uma edição feita por Engels das onze teses de Marx a respeito da filosofia de Ludwig Feuerbach, conhecidas como Teses sobre Feuerbach ou Ad Feuerbach. Nenhum desses textos são inéditos em português, mas são traduções originais da Boitempo.
Os textos sobre Feuerbach tratam de uma preocupação perene da obra de Engels, a filosofia e os debates acerca do idealismo e materialismo e a herança hegeliana no marxismo. O texto sobre o cristianismo trata de uma temática menos conhecida, a teologia e a exegese bíblica. Todavia, esse tema teve grande importância na formação intelectual de Engels em sua juventude, pelo menos até 1842, quando ele encerrou sua luta contra sua educação religiosa e passou a se reconhecer como ateu e comunista. Desde então, ocupou-se de questões mundanas.
O que conecta esses textos e os justificam estar reunidos em uma única edição é eles servirem de base para a compreensão engelsiana da concepção materialista da história, um dos princípios de sua visão de mundo.
Como de costume nas edições da coleção Marx-Engels da Boitempo, o livro traz textos de introdução, uma apresentação e um prólogo, para ser mais específico. O primeiro de Eduardo Chagas, professor na UFC, a Universidade Federal do Ceará, membro da Internationale Gesellschaft der Feuerbach-Forscher e com passagens em programas de pós-graduação nas universidades de Münster e Kassel. O segundo é de Victor Strazzeri, que tem passagens pelas universidades de Berna, Genebra e a Livre de Berlim. Esses textos introdutórios são importantes para contextualizar e esclarecer os leitores, sobretudo aqueles que estão iniciando os estudos no marxismo. O índice onomástico ao final também mostra a preocupação dos editores em ajudar os leitores mais jovens a navegar por entre os textos clássicos do marxismo, repletos de referências que hoje não são mais de conhecimento geral.
Feuerbach
O primeiro dos textos dessa edição, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, é considerado um dos principais entre os de introdução ao marxismo, e costuma aparecer nas bibliografias base de militantes políticos, o que não é de surpreender, uma vez que foi esse um dos públicos-alvo de Engels ao o escrever.
Publicado pela primeira vez em 1886 nos números 4 e 5 no Die Neue Zeit, o jornal do Partido Social-Democrata Alemão, foi republicado em 1888 no formato de panfleto, com prefácio e texto inédito anexo, as onze teses preliminares do jovem Marx sobre Feuerbach. Embora essas teses fossem notas para uso pessoal de Marx, Engels as considerava portadoras da nova visão de mundo que ele e Marx desenvolveram em meados da década de 1840.
No prefácio redigido à edição de 1888, Engels justifica as razões para a redação daquele texto. Nas décadas finais do século XIX, a filosofia hegeliana experimentou um renascimento na Inglaterra e nos países escandinavos. Entre os filósofos mais destacados daquela retomada do pensamento hegeliano estava Carl Nicolai Starcke, que, em 1885, publicou livro a respeito do pensamento de Feuerbach. Em razão do amplo conhecimento de Engels sobre a filosofia clássica alemã e da importância de Feuerbach para a formulação de sua visão de mundo, os editores do Die Neue Zeit o convidaram para resenhar o livro de Starcke.
O convite permitiu a Engels retomar o projeto inacabado de crítica filosófica realizado em parceria com Marx entre 1845 e 1846, A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes, Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. O projeto visava, conforme registrou Marx, “acertar as contas com [sua] antiga consciência filosófica” a partir de “uma crítica da filosofia pós-hegeliana”. O texto final jamais veio à luz durante seu tempo de vida em razão das circunstâncias políticas na Alemanha, as quais levaram o editor a recuar e cancelar sua publicação. Contudo, os elementos de maior relevância para a dupla — o acabamento da concepção materialista da história e da dialética, e o ajuste de contas com sua consciência filosófica posterior — já haviam sido alcançados durante o período de pesquisa, debate e redação da obra. Assim, de acordo com Marx, o manuscrito foi abandonado “à crítica roedora dos ratos”.1Karl Marx, “Prefácio”. In: Karl Marx, Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. Trad. e intr. de Florestan Fernandes. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 49. (Clássicos do Marxismo).
Se é verdade que o ajuste de contas com sua consciência filosófica posterior fora atingido, o mesmo não pode ser dito a respeito da “crítica roedora dos ratos”. Marx e Engels dedicaram tempo e intelecto nos dois volumes em oitavo que compreendem o manuscrito da Ideologia alemã para o dispensar daquela maneira. No prefácio de 1888 ao Ludwig Feuerbach, Engels conta o resgate do velho manuscrito a fim de realizar a resenha encomendada pelo Die Neue Zeit, demonstrando que, depois de quatro décadas, a dupla Marx e Engels o guardou com algum mínimo de cuidado.
Em novo contato com o velho manuscrito, Engels registrou que a seção a respeito de Feuerbach não estava completa; a exposição sobre a concepção materialista da história — considerada como a parte pronta do manuscrito — demonstra quão incompleto eram seus conhecimentos sobre história econômica; faltava a crítica à doutrina de Feuerbach. Assim, Engels conclui que os manuscritos não eram adequados para a realização da, então, presente proposta.
Quadro décadas mais amadurecido intelectualmente, Engels aproveita a nova oportunidade de retomar a pesquisa iniciada em 1845 em parceria com Marx a fim de dar acabamento à sua visão de mundo, a concepção materialista da história. Desse modo, Engels nos apresenta em Ludwig Feuerbach sua versão mais acabada de sua relação com a filosofia de Hegel; as razões para a suprassunção desta; o reconhecimento da influência de Feuerbach — tratado como uma espécie de elo intermediário entre a filosofia de Hegel e a filosofia de Marx e Engels — na formulação da dialética materialista; ou, nas palavras do próprio Engels: a oportunidade de acertar a “dívida de honra não saldada” com Feuerbach.
Enfim, o objetivo visado por Engels em Ludwig Feuerbach foi o de retomar o projeto de crítica filosófica de juventude desenvolvida em parceria com Marx, porém, sob um novo contexto e com a possibilidade de corrigir e complementar as teses e os resultados obtidos durante 1845 e 1846 sob as luzes do desenvolvimento posterior da dialética materialista. Importante enfatizar que, naturalmente, se tratava das conclusões de Engels acerca do tema, havendo debates e teses a respeito das divergências entre Marx e Engels a respeito da dialética e da filosofia hegeliana. Esses objetivos relegaram para último plano a proposta primeira — resenhar o livro de Starcke —, pois, a instrução intelectual do proletário e seus aliados para a campanha revolucionária é de importância maior do que a tarefa de desbancar aqueles que visavam reanimar Feuerbach das catacumbas da filosofia clássica alemã.
O ensaio de Engels está dividido em quatro partes. A primeira resume a filosofia hegeliana e as teses dos jovens hegelianos e comenta a obra de Feuerbach e sua relação com o fim do hegelianismo. O texto de Engels não examina a filosofia alemã do período como independente da história econômica, política e social, mas mostra a relação entre filosofia e história; isto é, contextualiza a filosofia com os acontecimentos históricos: as revoluções liberais, a Era Napoleônica, a Restauração, o absolutismo e a teocracia prussiana, o movimento constitucional e democrático na Alemanha e, por fim, a Revolução Alemã de 1848-9.
¶ A própria sentença hegeliana [— “Tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real” —] se converte no seu oposto por meio da dialética hegeliana: tudo o que é real no âmbito da história humana torna-se irracional com o passar do tempo e, por conseguinte, já é irracional por sua destinação, sendo afetado desde o início pela irracionalidade; e tudo o que é racional na maneira de pensar das pessoas está destinado a se torna real, por mais que pareça contradizer a realidade aparente que está aí. De acordo com todas as regras do método hegeliano de pensar, a sentença da racionalidade de todo o real se dissolve nesta outra: “Tudo o que vem a ser é digno de perecer” (pt. 1, p. 35).
Na segunda parte, trata de questões fundamentais da filosofia, como as contradições, ou as relações, entre pensar e ser, espírito e natureza, imaterial e material; resume a tese de Feuerbach em A essência do cristianismo e sua importância para os rumos da filosofia alemã na década de 1840; critica o materialismo de Feuerbach, incapaz de progredir além do materialismo dos iluministas do século XVIII, que Engels considerava como sendo mecânico, e não dialético. Por fim, Engels retoma muitas de suas teses apresentadas em Anti-Dühring e em “O papel do trabalho na hominização do macaco”.
Na parte 3, prossegue o exame crítico da filosofia feuerbachiana, expondo o idealismo por trás do materialismo daquele filósofo. Conforme Engels, apesar da importância do materialismo de Feuerbach, este não fora capaz de apresentar um novo sistema que superasse a filosofia hegeliana, sendo, portanto, necessário retornar a Hegel, com ressalvas, é verdade, mas ainda não superado, sobretudo no que se refere à dialética, a parte revolucionária do hegelianismo.
Na parte 4, Engels apresenta em que consiste a posição materialista e dialética advogada por ele e por Marx, a concepção materialista da história. Segundo ele, naquela visão de mundo, a natureza e as sociedades humanas devem ser estudadas e compreendidas por meio de processos, e não como coisas estanques e essencialistas. Para isso, as ciências naturais, sociais e a história são indispensáveis.
Há também considerações a respeito da investigação histórica, a qual deve partir do presente, de sua forma mais desenvolvida, para questionar o passado. As lutas de classes, quando cabíveis, são um dos fios condutores para se interpretar a história humana. Como demonstração desse princípio interpretativo, Engels aplica o método proposto da concepção materialista da história em uma versão vertiginosa da história humana até a formação do capitalismo e das burguesias (pp. 76-82).
¶ Enquanto em todos os períodos anteriores, contudo, a pesquisa dessas causas propulsoras da história era quase impossível — por causa dos nexos complicados e encobertos e de sua repercussão —, o período atual, que é o nosso [— isto é, o capitalista —], conseguiu simplificar esses nexos a tal ponto que o enigma pode ser solucionado (pt. 4, pp. 76-7).
O fim da parte 4, que fala a respeito do surgimento e da história das religiões e do cristianismo (pp. 82-6), se conecta com o texto seguinte da edição, Sobre a história do cristianismo primitivo. Outra vez, Engels põe em prática a concepção materialista da história, demonstrando o poder desse método na interpretação científica da história humana.
O hegelianismo de Marx e de Engels
Quanto às raízes hegelianas de Marx e de Engels, há três correntes principais na tradição marxista. A estruturalista argumenta que teria havido uma ruptura epistemológica entre o jovem Marx e o Marx maduro, e que nessa ruptura ele teria cortado relações filosóficas com o hegelianismo.
Há uma corrente que argumenta o contrário, isto é, que Marx jamais rompeu com o hegelianismo, mas que permaneceu hegeliano. Como fonte para sustentar isso, utiliza os manuscritos de crítica à economia política, em particular o de 1857-8, os Grundrisse, e o posfácio à segunda edição alemã do Capital, no qual Marx aproxima seu método de investigação do de Hegel, embora materialista, e não idealista.
Também há a corrente que argumenta que Marx nem rompeu com o hegelianismo nem continuou hegeliano, mas que teria dirimido, ou suprassumido, a filosofia do mestre. György Lukács está entre aqueles que advogam essa tese, em especial na Ontologia.
Acerca da obra de Engels, também há correntes interpretativas. Uma delas nega qualquer hegelianismo, tanto no jovem Engels quanto no maduro. Um dos principais representantes dessa corrente é Norman Levine, o qual, em Divergent Paths, diz que o hegelianismo de Engels era só jargão, sem substância, uma vez que ele jamais teria compreendido Hegel para ser um herdeiro legítimo do grande filósofo de Stuttgart. Mas quem teria compreendido Hegel? Não há, entre os próprios hegelianos, divergências? Quais seriam os critérios objetivos para determinar o entendimento, ou não, de Hegel por alguém? Enfim…
Outra corrente argumenta que Engels não só foi hegeliano e teria compreendido a obra de Hegel, como ele jamais deixou de ser hegeliano. Diferentemente de Marx, Engels não teria passado pelo processo de suprassunção do seu hegelianismo, e nisso estaria uma das fontes das deficiências de sua obra e de seu legado no marxismo. Lukács, em Prolegômenos à Ontologia, é um do que defende essa tese.
Mais difícil de entender é que Engels, em geral tão lúcido, tão devotado à realidade, não tenha exercido aqui nenhuma crítica aniquiladora a Hegel quanto aos princípios, mas tenha se contentado em “colocar de pé”, de maneira materialista, a construção idealista da negação da negação, isto é, comprovado “que a negação da negação nos dois reinos do mundo orgânico realmente acontece”.2György Lukács, Prolegômenos para uma ontologia do ser social. Trad. de Lya Luft e Rodnei Nascimento. Supervisão editorial de Ester Vaisman. Revisão técnica de Ronaldo Fortes. Pref. e notas de Ester Vaisman e Ronaldo Vielmi. Posf. de Nicolas Tertulian. São Paulo: Boitempo, 2010, pt. 3, p. 166.
Engels, em sua crítica a Hegel, não foi realmente até às raízes nesse ponto, como Marx já no início de sua atividade o fizera[. Engels] não apenas omitiu a necessária crítica da logicização das relações do ser, mas até realizou a tentativa, necessariamente vã, de tornar a construção hegeliana plausível por meio de exemplos trazidos da natureza, da sociedade e da filosofia.3Ibid., pt. 3, p. 170.
Próximo dessa tese lukacsiana está Ricardo Musse em “A dialética como método e filosofia no último Engels”, ensaio no qual diz que o hegelianismo de Engels esteve, da juventude à maturidade, filtrado pelas filosofias dos jovens hegelianos de esquerda dos anos 1830 e 1840.
Essa corrente apresenta um argumento razoável e fundamentado nos textos engelsianos, inclusive em Ludwig Feuerbach, uma vez que o próprio Engels escreve que o método hegeliano foi mantido, necessitando só de um ajuste, a inversão do idealismo para o materialismo.
¶ Hegel não foi simplesmente posto de lado; pelo contrário, o ponto de partida foi seu lado revolucionário, anteriormente explicitado, ou seja, o método dialético. Mas esse método era imprestável em sua forma hegeliana. […] Era preciso eliminar essa inversão ideológica. Voltamos a conceber os conceitos de nossa mente em termos materialistas, como retratos das coisas reais, em vez de conceber as coisas reais como retratos desse ou daquele estágio do conceito absoluto. Assim, a dialética ficou reduzida à ciência das leis universais do movimento, tanto do mundo exterior quanto do pensamento humano […]. Dessa maneira, porém, a própria dialética do conceito se converteu em reflexo consciente do movimento dialético do mundo real e assim a dialética hegeliana foi posta de cabeça para baixo, ou melhor, ela, que estava de cabeça para baixo, foi posta novamente com os pés no chão (pt. 4, pp. 68-9).
Por fim, o Ludwig Feuerbach de Engels é um excelente acompanhante para os textos filosóficos de juventude de Marx e de Engels, como o Sagrada família e o Ideologia alemã, uma vez que ele ajuda o leitor a se contextualizar acerca de um debate intelectual alemão de quase duzentos anos, e que, para os marxistas iniciantes, pode não fazer muito sentido hoje e até mesmo ser algo ultrapassado. Todavia, aqueles que se aventurarem por esses textos verão que é justo o contrário. Foi naquele contexto e naquele debate que Marx e Engels prepararam o solo para as suas grandes obras de maturidade. Sem a formulação da concepção materialista da história, eles não teriam em que sustentar a crítica à economia política, presente em O capital, e todo seu trabalho militante no movimento socialista do século XIX.
Onze teses
A versão das onze teses de Marx a respeito da filosofia de Feuerbach já fora publicada pela Boitempo na edição da Ideologia alemã. Nessa edição, há duas versões, a original de Marx e outra editada por Engels e publicada anexa ao Ludwig Feuerbach em 1888. É esta a versão republicada nessa nova edição.
As teses acerca de Feuerbach têm algumas das frases mais fortes de Marx, dentre elas a famosa tese onze, inscrita em seu túmulo no cemitério Highgate, em Londres: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; porém, o que importa é transformá-lo”. Mas interpretar o mundo não é parte do processo de sua transformação? Não há atividade na interpretação? Essa é uma das frases que mais se gastou tina dentro e fora do marxismo e a bibliografia da exegese a seu respeito é quase infinita.
Entre todas as abordagens possíveis dessas poderosas notas manuscritas por Marx há quase dois séculos, gostaria de destacar o aspecto do fatalismo, ou melhor, do combate ao fatalismo.
Marx combateu naquelas onze teses noções e clichês de que as mudanças na história são aparentes; de que, em realidade, não há nada de novo sob o sol; de que haveria uma essência humana que se manteria intacta ao longo do tempo; e de que as transformações na história seriam apenas de figurino. O jovem Marx havia compreendido, desde a década de 1840, que as circunstâncias sociais são produto, mais ou menos conscientes, de decisões humanas, resultantes de conflitos sociais e que as circunstâncias são alteradas por meio da prática.
Marx viveu em um contexto no qual essa consciência havia se tornado evidente para quem quisesse ver. O desenvolvimento da ciência e da técnica, o conhecimento filosófico e histórico mostravam que as sociedades humanas não estavam mais submetidas como antes às determinações da natureza ou a leis universais, mas que a natureza e as leis universais poderiam ser utilizadas a serviço das necessidades humanas. Havia surgido a possibilidade de enfim fundar uma civilização humana integrada e próspera por todo o planeta.
Essa transformação já estava em curso e Marx demonstrou então sua capacidade de captar as tendências históricas em processo, bem como as contradições inerentes às sociedades. Aqueles que visam limitar o curso do processo, apegam-se ao conservadorismo e ao reacionarismo, ao nada muda, ao o mundo é o que é. Aqueles que visam impulsionar o curso do processo histórico e suas contradições, colocam-se ao lado da revolução, da insistência em não se submeter ao fatalismo.
¶ O ponto de vista do velho materialismo é a sociedade “burguesa”; o ponto de vista do novo é a sociedade humana, ou a humanidade socializada (tese 10, p. 128).

Túmulo de Karl Marx no cemitério Highgate, Londres. Nele, há duas de suas frases mais conhecidas: “Trabalhadores do mundo, uni-vos”, do Manifesto comunista; e “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; porém, o que importa é transformá-lo”, a tese onze a respeito da filosofia de Ludwig Feuerbach. (Reprodução de “Highgate Cemetery”. London Museum, Londres, 24 jul. 2024.)
Continua